Perspectivas Austríacas sobre a Justiça Social
“Fiat justitia, ne pereat mundus” - “Que a justiça seja feita, para que o mundo não pereça”. Com essas palavras instigantes, Ludwig von Mises coloca a justiça no centro de seu tratado sobre o capitalismo de livre mercado, Ação Humana. Reforçando a importância da justiça, em Direito, Legislação e Liberdade, Friedrich Hayek descreveu as “regras de conduta justa” como “o fundamento indispensável e a limitação de toda lei”. Hayek considerava essencial que “o governo certamente deva agir com justiça em tudo o que faz”. Mas qual é, afinal, o papel que o conceito de justiça desempenha em suas análises?
Muitos economistas consideram que questões de justiça são irrelevantes para o estudo da economia sem juízos de valor. Afinal, embora a troca baseada na propriedade privada deva ser voluntária, isso não significa que precise ser “justa”. Hayek via como “um abuso” do termo justiça avaliar “os efeitos conjuntos das ações de muitas pessoas, mesmo quando estes jamais tenham sido previstos ou intencionados”, tomando por critério se tais efeitos seriam “justos”. Assim, por exemplo, uma alta ou queda nos preços não é nem “justa” nem “injusta”. Hayek entendia a tentativa de julgar os resultados de mercado em termos de justiça como “aquela antropomorfização ou personificação pela qual um pensamento ingênuo tenta explicar todos os processos de auto-organização”. Ele argumentava que “um fato bruto, ou um estado de coisas que ninguém pode mudar, pode ser bom ou ruim, mas não justo ou injusto. Aplicar o termo ‘justo’ a circunstâncias diferentes de ações humanas ou das regras que as regem é um erro categórico”. Isso significa que podemos ou não gostar de determinados resultados do mercado, mas não podemos descrevê-los como justos ou injustos.
Hayek traçou uma distinção clara entre as “regras de conduta justa” e a lei ou legislação: “Não estamos afirmando que todas as regras de conduta justa efetivamente observadas em uma sociedade sejam lei, nem que tudo aquilo que comumente se chama de lei consista em regras de conduta justa”. Em sua visão, a regra correta é aquela que alcança o objetivo desejado, enquanto a regra incorreta é aquela que falha nisso: “Todas as regras morais e leis humanas são meios para a realização de fins determinados. Não existe outro método para avaliar sua bondade ou maldade a não ser examinar sua utilidade para o alcance dos fins escolhidos e almejados”. Com esse raciocínio, sua posição era a de que a lei não reflete a “justiça” em um sentido abstrato, mas sim as regras escolhidas pela sociedade com vistas a construir o tipo de ordem social que ela valoriza.
Com base nisso, Hayek rejeitou o uso de argumentos de “justiça social” no debate político:
“(...) o termo ‘justiça social’ é totalmente desprovido de significado ou conteúdo (...) trata-se de uma fraude semântica, uma expressão usada para conferir aprovação moral ao que, de fato, é apenas uma exigência de distribuição de benefícios segundo algum critério arbitrário”.
O que se busca, portanto, é justificar a redistribuição de riqueza e poder de acordo com preferências particulares. Mises observa, em seu livro Socialismo, que os redistributivistas não necessariamente se consideram socialistas. Os defensores da justiça social são, muitas vezes, social democratas que não compreendem a ciência econômica e, por isso, não percebem que os meios que promovem para resolver problemas sociais são incapazes de solucioná-los. No exemplo dado por Mises, procuram resolver o problema da fome fixando os preços dos alimentos, mas, em vez de solucionar a questão, essa intervenção apenas leva à escassez de comida. Mises explica:
“Eles protestam afirmando que são defensores sinceros [do capitalismo] e contrários tanto à tirania quanto ao socialismo. O que pretendem é apenas a melhoria das condições de vida dos pobres. Dizem que são movidos por considerações de justiça social e que defendem uma distribuição mais justa da renda justamente porque estão empenhados em preservar o capitalismo e seu corolário ou superestrutura política, isto é, o governo democrático”.
Mises adverte que:
“O que essas pessoas não percebem é que as diversas medidas que sugerem não são capazes de produzir os resultados benéficos almejados. Ao contrário, geram uma situação que, do ponto de vista de seus próprios defensores, é pior do que o estado anterior que pretendiam modificar”.
Ele via os defensores da justiça social como sendo, muitas vezes, “ou não suficientemente inteligentes, ou não suficientemente diligentes” para alcançar seus objetivos, atribuindo então seus próprios fracassos à injustiça ou à falta de equidade:
"Eles consolavam a si mesmos e tentavam convencer outras pessoas de que a causa de seu fracasso não estava em sua própria inferioridade, mas sim na injustiça da organização econômica da sociedade. Declaravam que, sob o capitalismo, a autorrealização é possível apenas para poucos. ‘A liberdade em uma sociedade de laissez-faire é alcançável somente por aqueles que possuem riqueza ou oportunidade de adquiri-la’. Assim, concluíam, o Estado deveria intervir para realizar a chamada ‘justiça social’.
"O que realmente queriam dizer era: que se desse ao medíocre frustrado ‘de acordo com suas necessidades’."
Os defensores da justiça social frequentemente invocam a “lei natural” ou uma “lei superior” em uma tentativa de contornar os caminhos difíceis rumo ao sucesso. Invocar uma “lei superior” é a estratégia de todos os revolucionários e, à primeira vista, suas invocações opostas de justiça parecem inteiramente arbitrárias. Sem conhecê-los melhor, todas parecem igualmente espúrias. Assim, Mises afirma:
“É um absurdo justificar ou rejeitar o intervencionismo com base em uma ideia fictícia e arbitrária de justiça absoluta. É vão especular sobre a justa delimitação das tarefas do governo a partir de qualquer padrão preconcebido de valores perenes.”
Tanto Mises quanto Hayek, portanto, rejeitaram a invocação da “lei natural” como fundamento para o direito ou para a economia. Embora a extensão da rejeição de Hayek à lei natural como um todo seja debatível, Mises descreveu a lei da natureza como a lei da selva, pela qual vivem os animais, observando que “a característica das condições naturais é que um animal está sempre pronto para matar outros animais”, e assim, “‘Não matarás’ certamente não faz parte da lei natural.” O que parece “justo” para o predador faminto é “injusto” para a presa vulnerável. Mises, portanto, rejeitou completamente os conceitos de justiça baseados em lei natural, argumentando que “Não existe, entretanto, tal coisa como lei natural e um padrão perene do que é justo ou injusto.” Ele considerava a “lei natural” como algo “fictício e arbitrário”.
Em A Ética da Liberdade, Murray Rothbard adotou uma posição diferente em relação ao papel da justiça, argumentando que o direito libertário deve ser fundado sobre princípios de lei natural. Ele via “uma lei natural racionalmente estabelecida” como o alicerce da justiça. A referência à racionalidade é importante na filosofia de Rothbard; significa que a lei natural não é meramente uma referência ao que os animais fazem em estado natural, mas sim princípios derivados da razão humana. Rothbard considerava importante não apenas defender os direitos de propriedade por razões utilitaristas, mas defender a “propriedade justa, ou legítima, ou talvez ‘propriedade natural’”. Para ele, a justiça não era algo meramente incidental à defesa da liberdade, mas sim um conceito moral e ético que está no próprio cerne da liberdade. Ele julgava necessário invocar argumentos morais e éticos para contrapor-se às demandas dos intervencionistas ignorantes, porém destrutivos, ainda que movidos por boas intenções. Os defensores da justiça social não podem ser respondidos apenas com argumentos econômicos. Rothbard sustentava que “É preciso ir além da economia e do utilitarismo para estabelecer uma ética objetiva que afirme o valor supremo da liberdade e que moralmente condene todas as formas de estatismo”. Sua visão era que, “embora a teoria econômica praxeológica seja extremamente útil para fornecer dados e conhecimentos na formulação de políticas econômicas, ela não pode ser suficiente por si só para permitir que o economista faça qualquer juízo de valor ou defenda qualquer política pública”. Seu ponto sobre a política pública é importante para compreender por que ele recorre a princípios de justiça. Como observa David Gordon:
“(…) um defensor da justiça social poderia argumentar que a exigência de reparar o tratamento discriminatório não é uma alegação empírica [econômica] sobre as fontes da desigualdade atual, mas sim uma exigência moral. Pessoas que sustentam essa visão podem pensar que, mesmo que você esteja agora em boa situação financeira, ainda assim tem direito a compensação se tiver sofrido discriminação. (Mais uma vez, não apoio essa visão, muito pelo contrário; mas uma resposta adequada a ela deve envolver teoria moral)”.
Existem muitas sobreposições entre as filosofias utilitaristas e de lei natural, assim como muitas distinções importantes, que não podem ser tratadas em um artigo tão breve. Mas pode-se perceber que as diferentes perspectivas austríacas sobre o conceito de justiça não dizem respeito tanto a diferenças de definição ou de método, e sim a como diferentes teóricos compreendem o papel do economista ao se engajar em debates de políticas públicas e ao responder às reivindicações de “justiça” feitas por estatistas e intervencionistas. Enquanto os austríacos mantêm uma separação analítica muito clara entre a ciência econômica, ou praxeologia, e a filosofia política ou política pública, eles têm visões distintas sobre se, quando e como os economistas devem se envolver nos debates sobre “justiça social”.
Este artigo foi originalmente publicado no Mises Institute.
Recomendações de leitura:
A “justiça social” não é social nem justa
Alguém sabe definir o que é “justiça social”?
____________________________________
Nota: as visões expressas no artigo não são necessariamente aquelas do Instituto Mises Brasil.

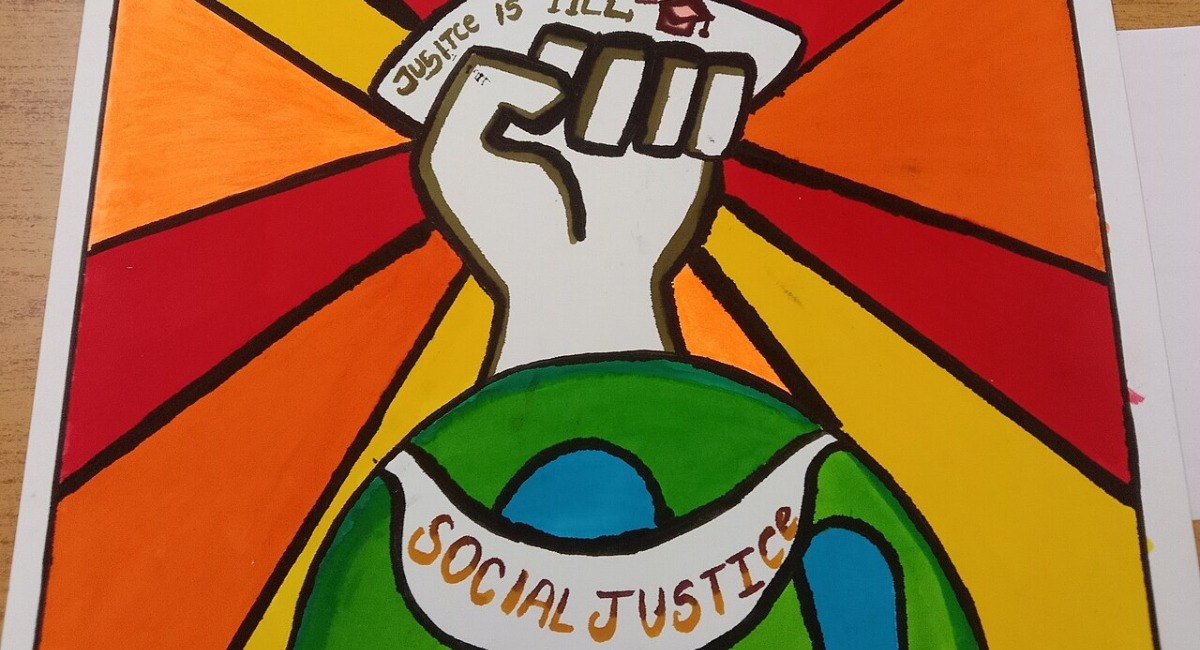
Comentários (16)
Deixe seu comentário