Direito
O fio invisível da liberdade: direitos naturais na história constitucional do Brasil
O fio invisível da liberdade: direitos naturais na história constitucional do Brasil
Nota do Editor:
O artigo aborda a história das constituições brasileiras do ponto de vista dos direitos naturais. O tema é fundamental para entender os problemas do país. O Mises Brasil aborda esse tema no curso “Por que o Brasil não dá certo: a história das Constituições”, do professor Rodrigo Marinho. Inscreva-se agora no curso!
__________
A história constitucional brasileira não é uma linha reta. É uma curva sinuosa de avanços e retrocessos, de promessas escritas e silêncios gritantes. Mas por entre os desvios do poder e os abusos da força, um fio invisível permanece: a afirmação, ainda que imperfeita, dos direitos naturais à vida, à liberdade e à propriedade. Eles estão lá desde o Império. Foram reafirmados na República. Silenciados nas ditaduras, até serem consagrados, com a força de uma cláusula pétrea, na Constituição de 1988.
A Constituição de 1824, outorgada por D. Pedro I, foi o primeiro texto brasileiro a proclamar, com clareza e densidade, a inviolabilidade dos direitos civis e políticos, “que têm por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade”. O artigo 179 apresentava um catálogo de garantias amplo e ousado para seu tempo: legalidade, liberdade de imprensa, habeas corpus, inviolabilidade do domicílio, vedação da tortura, igualdade perante a lei, responsabilidade dos agentes públicos, direito à petição, proteção à propriedade privada em sua plenitude e oposição explícita às corporações de ofício. A liberdade religiosa também foi assegurada, mesmo com o catolicismo como religião oficial — algo comum nos Estados ocidentais da época, com exceção dos Estados Unidos, que já haviam adotado a separação formal entre Igreja e Estado.
Em contexto histórico, foi um texto fortemente influenciado pelo liberalismo político. O fio do liberalismo brasileiro foi lançado ali, não como promessa vaga, mas como fundamento normativo de um Estado limitado pelo direito — curioso notar que muito do que se considera “conquista” de 1988 já estava proclamado, em termos quase idênticos, mais de 160 anos antes.
Pois bem. Com a República, em 1891, o modelo americano inspirou a separação entre Igreja e Estado, a liberdade de crença, de expressão e de associação. O direito de propriedade foi reafirmado como pilar do novo regime. A Constituição de 1934 incorporou, com inspiração no modelo de Weimar, uma nova camada de direitos sociais — tendência típica do constitucionalismo europeu do entreguerras, nem sempre fiel ao ideal de limitação do poder. Ainda assim, os fundamentos naturais da ordem jurídica — vida, liberdade, propriedade — permaneciam no centro do arcabouço normativo.
Foi com a Constituição de 1937, a chamada “Polaca” de Vargas, que esse fio foi rasgado com método e brutalidade. Inspirada em modelos autoritários europeus da década de 1930, ela concentrou o poder nas mãos do Executivo, aboliu o habeas corpus, extinguiu os partidos políticos, submeteu o Judiciário ao chefe do governo e transformou o estado de exceção em norma constitucional. As garantias individuais foram sufocadas por um projeto político marcado pela censura, pela perseguição e por uma concepção tecnocrática e autoritária de sociedade — com ecos de ideias eugênicas e coletivistas em sua retórica fundacional. Os direitos, no papel, curvavam-se à lógica de um Estado forte, centralizado e moralizador. O fio liberal foi rompido sem disfarces.
Com a redemocratização de 1946, o fio, antes rasgado, foi costurado novamente — agora com garantias mais firmes, como a previsão expressa do mandado de segurança e o fortalecimento do habeas corpus, já reconhecido desde 1824. Os fundamentos retornaram sob uma roupagem mais moderna, com reforço das garantias processuais e respeito à ordem democrática.
O golpe de 1964 representou novo retrocesso. A Constituição de 1967 e a Emenda Constitucional nº 1 de 1969 mantinham, no texto, os direitos naturais. Mas os Atos Institucionais — especialmente o AI-5 — rasgavam essa promessa. Prendia-se sem culpa. Cassava-se sem processo. Suspendia-se o habeas corpus. A propriedade, a liberdade e a própria vida estavam à mercê da conveniência política. O direito foi instrumentalizado. A exceção virou regra. O fio, mais uma vez, foi rasgado.
Foi somente com a Constituição de 1988 que os direitos naturais receberam um escudo normativo à sua altura. Eles estão no coração do art. 5º. E mais: foram blindados contra o arbítrio pelo art. 60, § 4º, IV, que os protege como cláusulas pétreas. Não podem ser abolidos nem por emenda constitucional. A vida, a liberdade e a propriedade deixaram de ser apenas promessas de papel. Passaram a ser princípios intocáveis — ao menos no plano normativo. O fio, tantas vezes rasgado, foi costurado de volta, agora com uma linha inquebrantável – pétrea. Isso não significa que a Constituição de 1988 seja perfeita, ou que o Estado brasileiro tenha se mantido fiel a esse compromisso, mas foi um marco irreversível: o reconhecimento jurídico da liberdade como cláusula incontornável.
O caminho não foi fácil. Mas o fio resistiu. Hoje, ao defender os direitos naturais em face de um Judiciário que muitas vezes oscila entre o protagonismo e o autoritarismo, não se inventa uma nova tradição: reafirma-se a mais antiga. Porque o Estado existe para preservar a liberdade. E o texto constitucional — quando respeitado — é o maior aliado de quem não abre mão dela. Em um tempo no qual decisões judiciais, por vezes, reinterpretam ou desafiam esses limites, o art. 5º segue como âncora contra os excessos que a história já conhece demais.
Os positivistas podem ficar tranquilos. Não é preciso defender a criação dos direitos naturais no Brasil. A Constituição de 1988 não os inventa — ela os assegura. Essa escolha de verbo no preâmbulo é reveladora: os constituintes não pretendiam instaurar um novo regime de direitos, mas proteger juridicamente aqueles que sempre acompanharam a trajetória civilizatória brasileira, ainda que nem sempre respeitados. Ao proclamar a inviolabilidade da vida, da liberdade e da propriedade no art. 5º, a Constituição apenas reafirma o que o povo já reconhece como legítimo.
Essa leitura ecoa diretamente a teoria de Randy Barnett. Para ele, uma constituição legítima não é aquela que cria direitos a partir do nada, mas aquela que reconhece os direitos preexistentes dos indivíduos e estrutura mecanismos institucionais para protegê-los contra os abusos do poder estatal. Não se trata de concessão do Estado, mas de contenção do Estado. A Constituição, nesse modelo, “é a lei que governa aqueles que nos governam” — um pacto para limitar o alcance do poder e preservar o espaço da liberdade. É a presunção de liberdade como ponto de partida da ordem jurídica, e não a permissão do Estado como condição para agir.
Ao elevar os direitos e garantias individuais à condição de cláusulas pétreas, o art. 60, § 4º, IV da Constituição de 1988 cumpre precisamente essa função. Cria uma barreira material contra a erosão do núcleo essencial da liberdade. Nenhuma emenda, nenhuma maioria, nenhum contexto político — nem mesmo uma decisão judicial — pode abolir aquilo que está acima do próprio poder constituído: a dignidade da pessoa humana manifestada na vida, na liberdade e na propriedade.
No Brasil, portanto, o compromisso com os direitos naturais não é utopia teórica nem empréstimo estrangeiro. É um traço persistente de nossa história constitucional. Reafirmar esse fio é mais que um exercício histórico — é o dever de quem luta por um Brasil fundado na liberdade.
*Leonardo Corrêa – advogado, LL.M pela University of Pennsylvania, Sócio de 3C LAW | Corrêa & Conforti Advogados, um dos Fundadores e Presidente da Lexum.
*Rodrigo Marinho – advogado, professor, mestre em Direito Constitucional e empresário. É conselheiro administrativo do Instituto Mises Brasil, sócio da LVM Editora, foi diretor legislativo da liderança do Partido Novo na Câmara dos Deputados, ex-Diretor de Compliance da PWR Gestão, atualmente é CEO do Instituto Livre Mercado, Fundador da Lexum, Doutorando em Direito pelo IDP e autor do livro “A História do Brasil pelas suas Constituições”.
Este artigo foi originalmente publicado no substack da Lexum.
_____________________________________________
Nota: as visões expressas no artigo não são necessariamente aquelas do Instituto Mises Brasil.

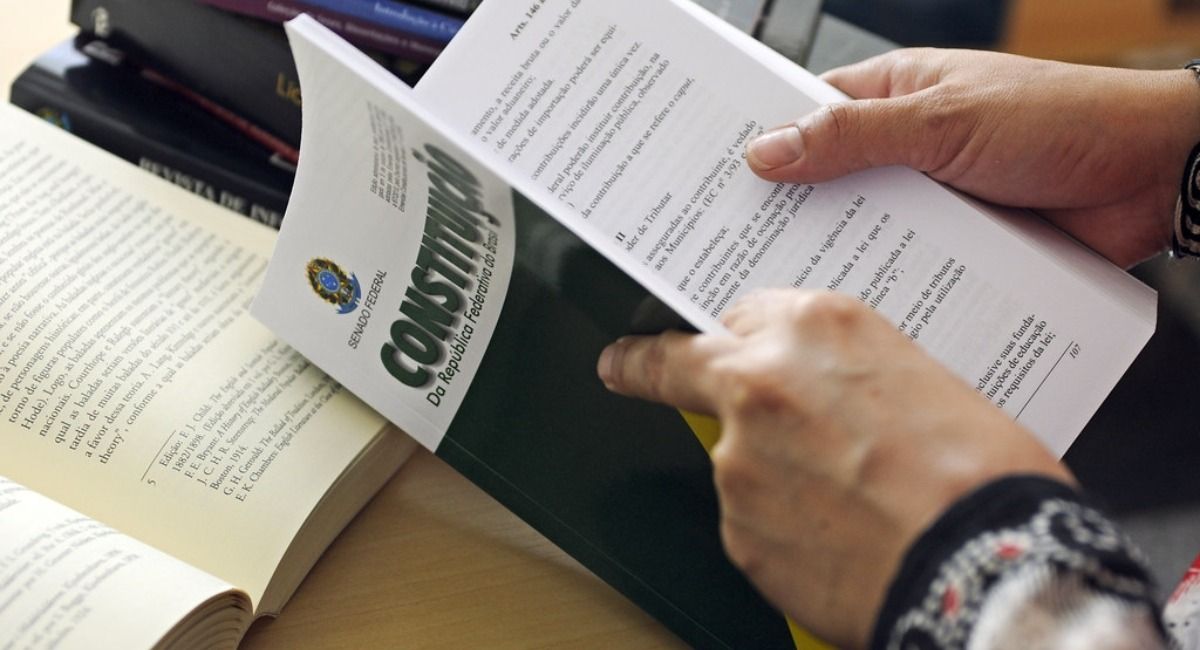
Comentários (6)
Deixe seu comentário