Ludwig von Mises e seu conceito de sociedade livre
| "O liberalismo não
tem flores nem cores, não tem música nem ídolos, não tem símbolos e nem
slogans. Ele tem a substância e os argumentos. Ambos devem levá-lo ao triunfo." |
Um liberal clássico determina um limiar muito alto para a iniciação da violência. Além da tributação mínima necessária para manter os serviços jurídicos e de defesa -- e vários liberais anti-estado recusam até mesmo isso --, ele nega ao estado o poder de iniciar violência, procurando exclusivamente soluções pacíficas para os problemas sociais. Ele se opõe à violência praticada em nome da redistribuição de riqueza, do enriquecimento de grupos de interesse e empresariais influentes e da tentativa de aprimorar a condição moral do homem.
Pessoas civilizadas, diz o liberal clássico, interagem entre si não de acordo com a lei da selva, mas por meio da razão e da discussão. O homem não pode se tornar bom em decorrência do guarda da prisão e do carrasco; caso estes sejam necessários para torná-lo bom, então sua condição moral já está muito além de qualquer possibilidade de salvamento. Como Ludwig von Mises afirma em seu livro Liberalismo, o homem moderno "deve se libertar do hábito de recorrer ao estado sempre que algo não lhe agrada".
Houve uma espécie de renascimento dos estudos misesianos no rastro da crise financeira que assolou o mundo em 2007 e 2008, dado que foram os seguidores de Mises que apresentaram as mais convincentes explicações sobre os fenômenos econômicos que deixaram a maioria dos "especialistas" gaguejando. A importância das contribuições econômicas de Mises para as discussões atuais tende a nos fazer negligenciar suas contribuições como teórico social e filósofo político. Seu livro Liberalismo ajuda a retificar esse descuido.
O liberalismo que Mises descreve nesse livro não é, obviamente, o "liberalismo progressista" do qual se fala hoje em dia, mas sim o liberalismo clássico, que é como o termo continua a ser conhecido na Europa. O liberalismo clássico defende a liberdade individual, a propriedade privada, o livre comércio e a paz -- os princípios fundamentais dos quais todo o resto do programa liberal pode ser deduzido.
Não seria nenhum insulto a Mises descrever sua defesa do liberalismo como parcimoniosa, no sentido de que, seguindo a lógica da navalha de Occam, ele não emprega em sua defesa nenhum conceito que não seja estritamente necessário ao seu argumento. Sendo assim, Mises não faz nenhuma referência aos direitos naturais, por exemplo, um conceito que possui um papel central em tantas outras exposições do liberalismo. Ele concentra-se principalmente na necessidade de uma cooperação social de larga escala. Essa cooperação social -- por meio da qual complexas cadeias de produção geram um aprimoramento do padrão de vida de todos -- pode ser criada somente por um sistema econômico baseado na propriedade privada.
A propriedade privada dos meios de produção, em conjunto com a progressiva ampliação da divisão do trabalho, ajudou a libertar a humanidade das horríveis aflições que antigamente devastavam a raça humana: doenças, pobreza opressiva, taxas pavorosas de mortalidade infantil, miséria e imundícies generalizadas, e uma radical insegurança econômica, com pessoas frequentemente vivendo a apenas uma colheita ruim da completa inanição.
Antes que a economia de mercado surgisse e possibilitasse a criação de riqueza gerada pela divisão do trabalho e pela acumulação de capital, era tido como certo que essas características grotescas das condições de vida do homem eram imposições irreversíveis de uma natureza fria e impiedosa, sem possibilidades de ser substancialmente aliviada -- muito menos subjugada inteiramente -- pelo esforço humano.
Os estudantes foram ensinados, por várias gerações, a pensar na propriedade como sendo uma palavra suja, a exata materialização da avareza. Mises não tolera tal concepção.
Se há algo que a história pode provar em relação a essa questão, é que em nenhum lugar e em nenhuma época já houve algum povo que, sem a propriedade privada, tenha melhorado seu padrão de vida para além da mais opressiva penúria e selvageria, uma situação dificilmente distinguível da existência animal.
A cooperação social, Mises demonstrou, é impossível na ausência de propriedade privada, e quaisquer tentativas de restringir o direito de propriedade irão solapar a coluna central da civilização moderna.
De fato, Mises ancora firmemente o liberalismo na propriedade privada. Ele estava perfeitamente ciente de que defender a propriedade significa atrair a acusação de que o liberalismo é meramente uma apologia velada ao capital. "Os inimigos do liberalismo o rotularam como a ideologia que defende os interesses especiais dos capitalistas", observou Mises. "Isso é típico da mentalidade deles. Eles simplesmente não conseguem entender uma ideologia política. Para eles, qualquer ideologia que não seja a deles representa a defesa de certos privilégios especiais em detrimento do bem-estar geral."
Mises mostra em seu livro, e em todo o restante de sua obra, que o sistema de propriedade privada dos meios de produção resulta em benefícios não apenas para os donos diretos do capital, mas também para toda a sociedade.
Na realidade, não há nenhum motivo em particular para que as pessoas em posse de grandes riquezas sejam a favor do sistema liberal de livre concorrência, sistema este no qual um esforço contínuo deve ser feito para se estar sempre atendendo aos desejos dos consumidores -- caso contrário, essa riqueza será reduzida gradualmente. Aqueles que possuem grandes riquezas, especialmente os que herdaram essa riqueza, podem com efeito preferir um sistema intervencionista, o qual tem maior propensão a manter congelados os padrões de riqueza existentes. Não é de se estranhar, por exemplo, que as revistas de negócios dos EUA, durante a Era Progressiva (1890-1920), estivessem repletas de apelos pela substituição do laissez-faire, um sistema em que os lucros não estão protegidos, por um arranjo de carteis sancionados pelo governo e por vários outros esquemas de conluio. E não é de se estranhar que, no mundo atual, os grandes empresários possuam laços umbilicais com o governo, pois sabem que dependem do governo -- de suas regulamentações e de seu protecionismo -- para manter sua riqueza livre de qualquer perigo de concorrência.
Naturalmente, dada a ênfase de Mises na importância da divisão do trabalho para a manutenção e no progresso da civilização, ele é particularmente franco em relação aos males das guerras, as quais, além de seus danos físicos e humanos, geram um progressivo empobrecimento da humanidade em decorrência de seu radical rompimento com a harmoniosa estrutura de produção que abrange todo o globo. Mises, que raramente mede as palavras, mas cuja prosa é geralmente elegante e comedida, fala com indignação e revolta quando o assunto passa a ser o imperialismo europeu, uma causa da qual ele não admite qualquer argumento a favor.
Assim como seu pupilo, Murray Rothbard, iria mais tarde identificar guerra e paz como a questão fundamental de todo o programa liberal, Mises da mesma forma insiste em dizer que essas questões não podem ser negligenciadas -- como elas frequentemente são por liberais clássicos atuais -- em prol de questões políticas mais inócuas e menos delicadas.
A principal ferramenta do liberalismo, afirmou Mises, é a razão. Isso não significa que Mises achava que todo o programa liberal deveria ser realizado por meio de tratados acadêmicos densos e elaborados. Ele admirava consideravelmente aqueles que transmitiam essas ideias nos palcos de teatro, nas telas de cinema e no mundo dos livros de ficção. Porém, é extremamente importante que a defesa do liberalismo permaneça arraigada em argumentos racionais, uma fundação muito mais sólida do que o instável irracionalismo da emoção e da histeria, os quais outras ideologias utilizam para agitar as massas. "O liberalismo não tem nada a ver com tudo isso", insistia Mises. "Não tem flores nem cores, não tem música nem ídolos, não tem símbolos e nem slogans. Ele tem a substância e os argumentos. Ambos devem levá-lo ao triunfo."
Atualmente, estamos vivendo em um momento perigoso da história. Com várias crises fiscais ocorrendo ao redor do mundo -- e as consequentes escolhas difíceis que elas impõem -- e ameaçando uma onda de agitação civil por toda a Europa, as promessas impossíveis feitas por estados assistencialistas, hoje completamente quebrados, estão se tornando crescentemente óbvias. Como argumentou Mises, não há nenhum substituto para a economia livre que seja estável no longo prazo. O intervencionismo, mesmo em prol de uma causa tão ostensivamente positiva quanto o bem-estar social, cria mais problemas do que soluções, levando assim a ainda mais intervencionismos, até que o sistema esteja inteiramente socializado -- isso se o colapso não ocorrer antes.
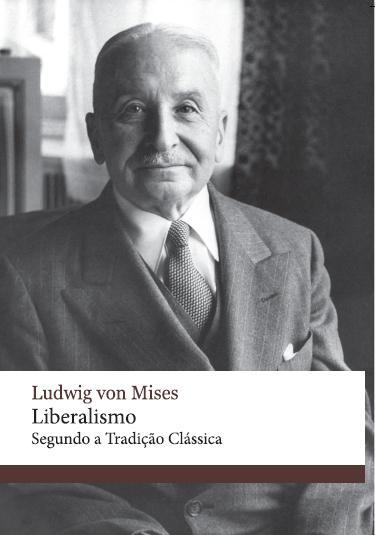 |
Para o bem da própria civilização, Mises nos exortou a descartar os mitos mercantilistas que opõem a prosperidade de um povo à prosperidade de outro; os mitos socialistas que descrevem as várias classes sociais como inimigas mortais; e os mitos intervencionistas que dizem que a prosperidade só pode ser alcançada por meio da pilhagem mútua dos cidadãos. No lugar dessas ideias juvenis e destrutivas, Mises forneceu um convincente argumento em prol do liberalismo clássico, o qual vê "harmonias econômicas" -- pegando emprestada a formulação de Frédéric Bastiat -- onde outros veem antagonismos e discórdias.
O liberalismo clássico, tão habilmente defendido por Mises, não busca dar a ninguém nenhuma vantagem obtida coercivamente, e exatamente por essa razão ele é o único arranjo que gera os mais satisfatórios resultados de longo prazo.

Comentários (15)
Deixe seu comentário